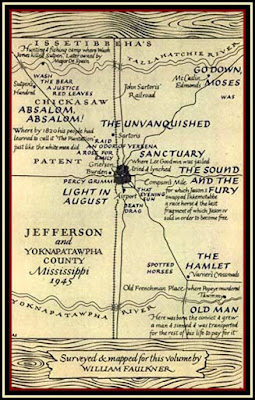Olá,
É preciso ressaltar que o Prêmio Nobel de Literatura deixou de ser concedido algumas vezes. Nos casos mais célebres, a razão foi a eclosão e o desenrolar das duas guerras mundiais (1914, 1918, 1940, 1941, 1942 e 1943). Outra foi a falta de consenso sobre o nome do escolhido (1935), optando-se por não premiar ninguém. E em duas ocasiões a decisão foi adiada para o ano seguinte: o prêmio de 1949 só foi anunciado em 1950 e do de 2018 foi concedido em 2019. No primeiro caso o escolhido foi o norte-americano William Faulkner, em virtude de não ter sido possível reunir maioria no ano anterior - a Academia Sueca é composta por dezoito membros, o que pode ensejar empates. Já o segundo caso foi o resultado de um escândalo financeiro e sexual, envolvendo Jean-Claude Arnault, esposo da poeta e acadêmica Katarina Frostenson. Arnault foi acusado (e condenado) de estupro, assédio sexual, uso indevido (com favorecimento monetário) das dependências da Academia Sueca e de vazamento do nome dos possíveis vencedores para as casas de apostas. O resultado deste imbróglio foi o adiamento do Prêmio Nobel de Literatura de 2018 e a renúncia de vários membros da instituição, acusados de conivência com os crimes de Arnault. Portanto, em 2019 a agremiação tinha a difícil missão de se redimir na mácula do ano anterior.
E o resultado foi, consenso geral, bastante satisfatório, sobretudo no plano simbólico da escolha: Olga Tokarczuk (1962), escritora polonesa, premiada em razão de sua "imaginação narrativa que, com paixão enciclopédica, representa o cruzamento das fronteiras como uma forma de vida", conforme lemos na exposição de motivos da Academia Sueca. Além da escolha de uma mulher representar uma mea culpa dos suecos em face dos hediondos crimes de Jean-Claude Arnault, a escrita de Tokarczuk representou um sopro de criatividade e de novidade no rol dos laureados com o Nobel de Literatura, uma vez que sua obra, ainda que eivada de elementos de erudição, tem um aporte grande na cultura pop e debruça-se sobre questões e temáticas candentes dos nosso tempo, ainda na pauta do dia nestes tempos tão sombrios: feminismo, direitos das minorias, situação dos marginalizados e ascensão da extrema direita no cenário político mundial. Seus poemas, ensaios, peças de teatro e, sobretudo, romances versam sobre a situação dos sujeitos num mundo, para usar uma expressão do filósofo alemão Theodor W. Adorno, em franco processo de danificação.
A obra de Olga Tokarczuk era praticamente desconhecida do leitor brasileiro à ocasião do anúncio de que havia vencido o Nobel de 2018. Havia apenas um livro publicado entre nós, o romance-mosaico Os vagantes, lançado aqui em 2014 pela pequena editora Tinta Negra e que passou praticamente despercebido pela crítica e pelo público. Curiosamente, em 2019, semanas antes do anúncio do prêmio, a publicação do romance Sobre os ossos dos mortos havia sido anunciada pela Todavia. O livro chegou, portanto, no exato momento em que os círculos literários nacionais começavam a ouvir falar de Tokarczuk. Muitos leitores chegaram a ela através deste livro, objeto, naturalmente, da resenha que aqui será feita. O romance pode ser classificado como algo próximo do gênero filosófico-policial. Destrinchar e recontar a obra - como tenho feito com os livros analisados no blog - seria entregar ao leitor o desfecho da narrativa, anunciado o nome do assassino (porque há um, revelado ao final do livro) e suas motivações. Por esta razão, farei comentários mais gerais sobre o enredo, apontando algumas características da narrativa e suas temáticas centrais que, penso, são marcas distintivas da ficção da autora polonesa.
O romance é narrado em primeira pessoa por Janina Dusheiko, uma professora de inglês aposentada, na casa dos sessenta nos e que vive no Vale do Kłodzko, região limítrofe entre a Polônia e a República Tcheca. A Sra. Dusheiko passa os dias ocupada em cuidar das casas dos vizinhos que visitam a região nos fins de semana e feriados - mas nunca no rigoroso inverno que assola o vale, período em que se passa a maior parte da ação -, em estudar astrologia e em traduzir, junto com o jovem amigo Dísio (Dionísio), poemas do metafísico inglês William Blake, de cujos versos foi retirado o título do romance (além de vários títulos de capítulos do livro). Feminista (não-teórica), ela é também uma ferrenha defensora dos animais, o que faz todo o sentido no contexto da narrativa: a região de Kłodzko é um "paraíso" de caçadores de animais que a povoam: javalis, corsas, cervos e raposas. Vegetariana, Dusheiko trava embates constantes com os abatedores de animais, incluindo o poderoso dono de uma "fazenda" de raposas e o padre local, a quem chama de Farfalhar, assim nomeado pelas vestes esvoaçantes. Denuncia a morte de animais às autoridades locais - que nada fazem, tomando-a por louca - e se insurge contra a instalação de torres de observação nos limites do floresta, locais em que os caçadores podem mirar e atirar mais precisamente nas pobres e indefesas presas. Solitária, conta apenas com a companhia de duas cachorras - que carinhosamente chama de "minhas meninas" - e que desaparecem misteriosamente antes mesmo de a história propriamente dita começar. Janina vive uma espécie de luto e, em sua busca pelas cadelas - espalha cartazes e indaga freneticamente os moradores -, é ridicularizada por praticamente todos.

É nesse contexto que uma noite, logo na abertura do livro, Janina é acordada por seu vizinho Esquisito - é pródiga sua forma de nomear as pessoas conforme suas características físicas ou comportamentais, como vimos em relação ao padre e como se vai observar ao longo da narrativa do livro - e que a informa que um outro vizinho, Pé Grande, um caçador cruel e misantropo com quem Janina já havia se desentendido muitas vezes, está morto em sua cabana. Os dois atravessam a paisagem gelada e, no caminho, são "vigiados" por uma família de corças, imóveis e de olhares atentos, como se percebessem o que realmente se passava na noite gélida daquele perdido canto polonês. Ao entrar, deparam-se com a mixórdia da casa de Pé Grande, que jaz roto e maltrapilho no chão da sala, provavelmente engasgado com o osso de uma corça que tinha acabado de caçar e comer. Enquanto Esquisito tenta telefonar para a polícia, Janina vê algumas fotografias sobre uma cômoda velha e, atraída por uma delas em particular, parece compreender algo que há muito a atormentava. Essa foto será crucial para que o leitor, ao final, compreenda - como ela naquele momento entendeu - todo o sentido da história de crimes e mortes que assolarão o Kłodzko dali em diante.
No entanto, não se engane o leitor ao imaginar que o livro será um thriller no sentido pedestre que a crítica (muitas vezes de forma preconceituosa) atribuiu ao termo. Embora haja, sim, toques de mistério e suspense envolvendo os eventos da narrativa, as mortes em si são um fator secundário. O que interessa na escrita de Olga Tokarcuzk é justamente a(s) reflexão(ões) acerca do(s) contexto(s) que cerca(m) aquele lugar e os eventos que passam a ocorrer ali. Um exemplo ocorre quando a agora dublê de detetive, ao encontrar junto com Dísio o segundo corpo, o do comandante local de polícia, morto por uma pancada na cabeça e cujo cadáver estava rodeado de pegadas feitas por patas de corça, lança a inicialmente incrível teoria de que os autores dos crimes são os animais:
"- Jesus, Jesus - Dísio soluçava - É o comandante, eu o vi o rosto dele, era ele.
Sempre me importei muito com Dísio e não queria que ele me tomasse por louca. Ele não. Quando estávamos chegando à casa do Esquisito, tomei coragem e decidi lhe contar o que estava pensando.
- Dísio - disse. - Esses animais estão se vingando das pessoas.
Dísio sempre confiou em mim, mas dessa vez nem me ouvia.
- Não é tão estranho quando parece - continuei. - Os animais são fortes e sábios. Nós não temos noção do quanto. Houve um tempo em que os animais eram postos diante do tribunal. E inclusive condenados.
- O que você está dizendo? O que você está dizendo? - balbuciava inconscientemente.
- Eu li uma vez sobre ratazanas que foram condenadas pelo tribunal porque provocaram muitos danos. O caso era adiado porque elas não compareciam às audiências. Finalmente, o tribunal lhes designou um advogado.
- Meu Deus, o que você está dizendo?
- Acho que foi na França, no século XVI - continuei. - Não sei como o caso terminou e se elas foram condenadas.
De repente, ele parou, agarrou meus braços com força e chacoalhou.
- Você está em choque. O que você está dizendo?
Eu sabia bem o que estava dizendo. Decidi checar as informações quando surgisse uma oportunidade." (p. 75-76)
Portanto, para ela, muito mais importante do que encontrar os culpados (que ela intui já saber a partir da observação das duas cenas do crime e das quais foi uma das primeiras chegar), é justificar e defender a atitude dos animais. Não apenas neste, mas em muitos outros momentos do livro, sua defesa se baseia justamente no direito dos bichos em empreender aquela santa vingança contra os humanos que praticam contra ele as maiores atrocidades. Tanto as duas primeiras, quanto as três outras vítimas são caçadores inveterados, que se comprazem pelo prazer de trucidar os animais da região. Um deles, Víscero, o dono de uma fazenda de raposas, é especialista em torturar e arrancar suas pelagens para a confecção de casacos.
Além de Dísio e de Esquisito, Janina compartilha suas teorias com Boas Novas, Capa Negra e Boros. A primeira é a vendedora de um brechó de quem a velha professora compra um casaco vermelho e a quem se afeiçoa ao ouvir a triste história de vida. O segundo é o promotor local, encarregado das investigações e que vem a ser o filho de Esquisito. Cético, ele duvida de que os animais sejam os autores dos crimes, julgando não passar esta teoria dos delírios de uma velha amalucada. O terceiro é um entomologista que vai parar naquelas bandas em busca de um besouro raro e altamente venenoso. Janina o acolhe e vive um rápido idílio amoroso (e sexual). É cômica e também comovente a passagem em que os dois, na companhia de Esquisito, jantam, acendem uma fogueira e fumam um baseado ao som de "Riders on the storm", da banda de rock The Doors, momentaneamente esquecidos do horror dos acontecimentos que pairam no vale, confortados pelo ainda potente sentido de convivência humana e da importância de se compreender - e aceitar - seu lugar nas engrenagens do mundo.
E esse sentido é uma das temáticas que atravessam o livro. Além da questão da defesa dos direitos dos animais e seu constante apregoar contra as crueldades praticadas pelos humanos contra eles, a Sra. Dusheiko reflete constantemente - sempre mediada por sua crença na astrologia e nas questões metafísicas, que beiram o sentido ontológico - a respeito da nossa existência e de sua insignificância face ao mistério e plenitude do universo, conforme podemos ler nesta sua divagação dela a respeito do caráter monadológico da vida:
"Está claro que o grande está contido no pequeno. Não há dúvidas quanto a isso. Enquanto escrevo, existe uma configuração planetária sobre a mesa, o universo inteiro, se você preferir. Um termômetro, uma moeda, uma colher de alumínio e uma xícara de porcelana. Uma chave, um celular, caneta e papel. E meu cabelo branco, cujos átomos preservam a memória dos primórdios da vida, da catástrofe cósmica que deu início ao mundo" (p. 138)
Plena de beleza, a prosa do livro (que é, em suma, o relato de Janina sobre a vida a partir dos acontecimentos misteriosos do Vale do Kłodzko) reflete essa visão de mundo, no qual cada ser, vivo ou inanimado, tem sua função primordial na configuração cósmica desde a origem dos tempos. É sobre isso, enfim, que escreve Olga Tokarckuk pelas mãos de sua personagem.
Por esta e outras razões, como vimos, a visão geral que a comunidade local tem de Janina é a de uma velha excêntrica. E iracunda, o que não deixa de ser verdade - uma ira, como ela mesma chama, de santa. Uma passagem bastante interessante, já próxima do desfecho do livro, é a missa em homenagem ao padroeiro dos caçadores, Santo Huberto. Convidada pelas crianças da escola em que, voluntariamente ainda dá aulas de inglês - os métodos pedagógicos de Janina são um capítulo à parte da narrativa! -, ela observa irada a hipocrisia do padre Farfalhar em louvar a memória do Huberto de Liège, tornado santo pela Igreja Católica para apadrinhar caçadores impiedosos. Enfarada pelas crescentes loas ao santo e aos caçadores locais, ela se levanta de seu assento e, para espanto de todos, pede para que o padre desça do altar e pare de dizer aquelas barbaridades:
"Consegui sair da fileira. Fui andando sobre pernas estranhamento rígidas até chegar quase ao próprio púlpito.
- Ei, você, saia daí - eu disse. - Basta.
Pairou um silêncio e ouvi com satisfação minha voz ecoar, rebatida pela abóboda e pelas naves, tornando-se cada vez mais forte.; era por isso que aqui a própria fala impressionava tanto.
- Estou falando com você. Não está ouvindo? Desça daí!
Farfalhar me encarava com olhos assustados, bem abertos, e seus lábios tremiam, como se, completamente surpreso, tentasse achar uma palavra adequada para essa situação. Mas não conseguia.
- Pois é, pois é - repetia, nem impotente, nem provocativamente.
- Desça desse púlpito, já! E caia fora! - gritei.
Foi então que senti no ombro a mão de alguém e vi um dos homens de uniforme [os caçadores que iriam ser abençoados durante a missa] atrás de mim. Sacudi-me e nessa hora chegou correndo outro. Ambos agarram meus braços com força.
- Assassinos - disse." (p. 224-225)
Posta para fora, ela observa algumas pegas, pássaros que tudo carregam para seus ninhos no teto das casas e que poderiam, com isso, provocar um incêndio. E é justamente num incêndio que, naquele mesmo dia, morre a última vítima. Mais uma prova, no contexto da teoria da Sra. Dusheiko, da vingança dos bichos contra seus algozes. Já o desfecho do livro, quando o criminoso e suas razões são finalmente reveladas, não pode ser descrito sem estragar a surpresa. Tampouco o destino de Janina poder ser contado. O que posso dizer é que ela não morre. Isso porque, como dito pela própria narradora em dado momento do livro, os horóscopos, que se baseiam na data de nascimento de uma pessoa, se bem estudados também contém a data de sua morte. E essa ela conhece bem, não será agora.
O romance de Olga Tokarczuk - grande merecedora do Nobel que lhe foi concedido - é um livro policial, é um libelo contra a crueldade animal, é um tratado das relações entre vida e astrologia, é um livro sobre a poesia de Blake e seus mistérios, é um estudo sobre as relações humanas (em especial a amizade) e é também muitas outras coisas. Escrito numa prosa límpida e repleta de referências, cumpre a dupla missão de entreter e instigar. Entretém pela história narrada e que o leitor acompanha com cada vez maior interesse, dados as reviravoltas e eventos que se sucedem. E instiga pela questões que traz e que ensejam no leitor uma reflexão sobre o sentido da existência humana num mundo que baila na toada da crueldade, do horror e da morte. Estúpidas todas elas, as dos animais e também as dos homens - ainda que Janina Dusheiko encare estas últimas como rebelião e vingança, conforme vimos. E enquanto tudo acontece, o mundo gira. O verão sucede o inverno, o gelo dá lugar às flores e o sol brilha sempre, mostrando que tudo ainda funciona, a despeito de nós e de nossa cruel intervenção.
Jorge Verly
Referência da leitura: TOKARCZUK, Olga. Sobre os ossos dos mortos. Tradução de Olga Baginska-Shinzato. São Paulo: Todavia, 2019.